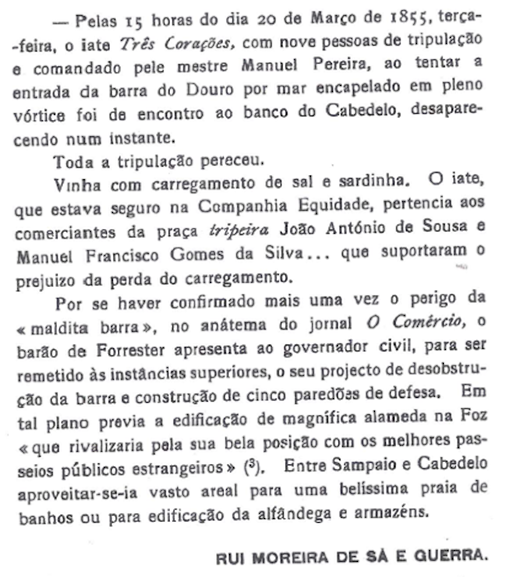Os naufrágios de 1862 e 1882
Os anos sucediam-se e os meios de socorro aos frequentes
naufrágios continuavam a ter pouca eficácia.
Em 14 de Janeiro de 1862 um patacho português de nome
“Abalizado” naufraga na barra morrendo 3 tripulantes e, ainda, 2 escunas
inglesas de nomes “Agnes” e “Edith”, em que se salvaram as tripulações.
Um patacho semelhante ao “Abalizado”
Uma escuna semelhante à “Agnes” e à “Edith”
Como os acidentes continuassem, 10 anos depois, em 1872, Eça
de Queiroz, em As Farpas, que
escrevia em parceria com Ramalho Ortigão, contou num irónico
e, por isso, violento texto, em que criticou a incapacidade do salva-vidas
existente na Foz do Douro, bem como, da comissão que o dirigia, o naufrágio de
uma lancha no qual morreram 14 homens.
Terminava descrevendo uma bela e romântica Foz, que
contrastava com as perdas de vidas causadas pelos frequentes naufrágios.
“Na Foz, há pouco, voltou-se uma lancha. Morreram 14 homens.
Os socorros foram dados por uma lancha de pilotos, que se
apressou corajosamente, e por outro barco, que veio, num risco agudo, da praia
do Cabedelo. Conseguiram salvar 10 homens: 14 morreram. A 10 passos do mar,
repousava placidamente o salva-vidas. O salva-vidas não desceu ao mar podia descer, molhar-se, navegar um instante:
não; conserva-se agasalhado na sua habitação onde, dizem rumores gloriosos, ele
está embrulhado em algodão, num cofre.
A areia do
Cabedelo reluz ao sol, as senhoras passeiam na Cantareira, as gaivotas voam, e
os que naufragam morrem.”
Eça de Queiroz, Julho de 1872; Fonte: Prof. Ricardo Figueiredo (blogue
“doportoenaoso”)
Dez anos passados, Oliveira Martins, em requerimento (que nunca teve resposta)
dirigido ao Rei D. Luís e significativamente datado de 22 de Agosto de 1882,
antevéspera do dia de São Bartolomeu, exprimia a sua preocupação pela
comunidade piscatória da Foz do Douro, descrevendo mais um naufrágio.
“Ao tempo em que no Porto corria um delírio de embriaguez
enthusiastica, ao que os jornaes dizem, lá para além, a seis léguas da cidade
triumphante, havia um grupo de mulheres soluçando, e um bando de crianças
espantadas, com os olhos mudos que as crianças tem diante das grandes
afflicções. Eram viúvas e órfãos na praia dura e negra.
(…) Foi uma lancha que se virou. Era de noite. O mar
banzeiro espreguiçava-se em ondas maciças. Uma d’essas ondas, tomando de lado
um barco, invade-o, quebra-se, e devora-o.
Foi o que succedeu. Uma lancha sobre o mar é como um
desafio a um monstro. O bruto estende a garra, e por desenfado esmaga e
engole…Era de noite. Soprava apenas um vento pesado e quente. Sob um ceu negro,
o mar como breu tinha malhas lívidas quando na encosta de uma onda vinha outra
desmanchar-se. Dir-se-hiam alvas mortuárias sobrepostas na abobada de um
carneiro sepulchral – liquido, falso, oscilante, onde a lancha vasou a gente
que a gente que a tripulava.
A praia é só: a villa fica distante. Estavam na praia as
mulheres da companha esperando o barco, para o ver sossobrar… Então o silencio
despedaçou-se em gritos lancinantes, como o ranger de velas quando no meio dos
temporais o vento furioso as despedaça em fitas. Era um rasgar de almas
afflictas, soando em ais selvagens, que o mar livido, impassível, não escutava.
(…) Que laços os ligam à comunidade nacional? Que lhes dá
o estado? Nenhuns. Nada. Authoridades conhecem apenas duas: a Senhora da Lapa
que os socorre nos temporaes, e a Sant’Anna, ou outra vareira, que lhes compra
o peixe e lhes dá dinheiro sobre as redes, de inverno, nos dias de fome.
Oliveira Martins; Fonte: Prof. Ricardo Figueiredo (blogue
“doportoenaoso”)
“Com referencia
a este districto maritimo (Porto), diz o chefe do departamento maritimo do
norte , ha na foz do Douro os precisos meios de soccorro para naufragos, e
constam elles de: hospital com tres enfermarias devidamente
montadas, guarda-roupa com vestidos de agasalho, barretes, calçado proprio,
etc., casa de banhos quentes, botica com os medicamentos mais necessários aos
naufragos, escovas e outros utensílios para fricções, machinas electrica,
pneumática, e objectos de cirurgia.
Fóra do armazém estão dois barcos salva-vidas e um
saveiro também salva-vidas, competentemente resguardados. Os tripulantes para
estas embarcações engajam-se na ocasião em que são precisos, pagando-se-lhes
depois com generosidade os seus serviços”.
José Cândido Correa,
In catálogo enviado à Exposição Industrial Portuguesa; Fonte: Prof. Ricardo Figueiredo (blogue “doportoenaoso”)
A tragédia de 27 de Fevereiro de 1892
Tragédia ocorrida no mar, mas que atingiu, sobremaneira, a
comunidade piscatória da Póvoa de Varzim e, entre outras, a população de
pescadores da Afurada.
Tiraria a vida a
105 dos 900 pescadores que estavam em faina no mar, no dia 27 de Fevereiro de
1892.
Dos 105 pescadores
que pereceram, 35 eram da Afurada e de 51 embarcações naufragadas 6 eram da
Afurada.
Sobre esta tragédia Gervasio Lobato (1850-1895) escreve no
“O Occidente” n º 475 de 1 de Março de 1892:
“No Sábado de
Carnaval de 1892, dia 27 de Fevereiro
o mar fora da barra do Porto tomou um aspecto medonho, terrível, e ameaçando de
morte horrorosa os mil e tantos pescadores da Povoa de Varzim, da Affurada, de Mathosinhos,
de Buarcos que nas suas companhas andavam arrancando ao mar traiçoeiro o pão de
cada dia para si e para os seus. (…) À hora em que escrevemos faltam-nos ainda
notícias minuciosas da colossal catastrophe que veiu encher de lucto, de
lagrimas e de miséria as povoações mais sympathicas, mais trabalhadoras, mais
heroicas de Portugal, mas o que se sabe já pelos últimos telegramas é que o
numero de mortos ascende já a 108 e que parece que não ficará por ali.
(…) S. M. El-Rei e Sua M. a Rainha a Sr.ª D. Amélia
apenas souberam da terrivel desgraça que cahiu sobre as povoações marítimas do
norte mandaram chamar o sr. Presidente do Conselho de Ministros para que lhes
desse notícias minuciosas da catástrofe declarando suas Magestades a S. Ex.ª
que queriam contribuir, quanto lhes fosse possível para minorar a desgraça das
famílias dos infelizes pescadores”.
Fonte: Prof. Ricardo Figueiredo (blogue “doportoenaoso”)
O número seguinte de 11 de Março de “O Occidente”
continuaria a ser dedicado à tragédia com gravuras e opiniões de poetas e
escritores entre estes Ramalho Ortigão.
Uma onda de solidariedade para com as famílias enlutadas,
haveria de se estender a todo o País.
A rainha D. Amélia passou a ser a frente daquela onda.
No culminar das acções de angariação de fundos para
beneficiar as famílias dos náufragos, a rainha iria promover, em 24 de Abril,
um torneio equestre, em Lisboa, no hipódromo de Belém, que contaria com cerca
de 25000 assistentes, dos quais 19000 eram de bilhetes para o lugar de peão, os
mais baratos.
Na ocasião, entre os diversos jogos, constituíram-se duas
equipas: uma de cor verde comandada pelo duque do Porto, o infante D. Afonso e
outra de cor azul, que teve à sua frente D. António de Siqueira, conde de S.
Martinho.
As verbas arrecadadas vieram a constituir um fundo que, na
generalidade, cumpriu os objectivos traçados e que seria extinto em 1918.
A tragédia viria a
determinar uma melhoria das condições de salvamento existentes na barra do rio
Douro.
Assim, o rei D. Carlos e a rainha D. Amélia começariam a dar
os primeiros impulsos para que viesse a instituído (21/04/1892) o Real
Instituto de Socorros a Náufragos, com uma cobertura mais aceitável do
território e reforço dos meios e organização.
Gravura da Afurada de Domingos Cazellas, publicada no “O
Occidente” de 11 de Março de 1892, extraída de foto de Emílio Biel (1838-1915);
Fonte: Prof.
Ricardo Figueiredo (blogue “doportoenaoso”)
A tragédia que envolveu
quatro traineiras de Matosinhos, em 1947
O dia 2 de Dezembro de 1947, ficou
marcado como uma das datas mais tristes da comunidade piscatória
de Matosinhos - naufrágio de quatro traineiras que vitimou
152 pescadores.
O dia anterior tinha nascido encoberto e sombrio, embora não
chovesse nem houvesse grande vento.
Durante a manhã, começaram a chegar ao porto de Leixões as
traineiras que tinham andado na pesca, durante a noite. A dada altura, entrou
uma carregada de sardinha e, embora, o tempo mostrasse “má cara”, os pescadores
decidiram fazer-se outra vez ao largo e rumaram para a área da Figueira da Foz,
103 traineiras.
Entretanto, o tempo mudou radicalmente, vendo-se as traineiras
envolvidas num imenso temporal. As ondas fortíssimas chegaram a subir aos 10
metros, enquanto o vento rodava para Noroeste e o ar arrefecia drasticamente.
Começou, então, a procura desesperada por um porto de
abrigo.
Entre a Aguda e o Senhor da Pedra, porém, quatro traineiras
a navegar em situação aflitiva, muito perto da costa, acabariam por naufragar,
na madrugada de 2 de Dezembro de 1947, apesar dos esforços desenvolvidos em
terra. Pereceram todos os tripulantes das embarcações com a excepção de seis
deles.
Assim, as traineiras “D. Manuel”, “Rosa Faustino”, “Maria
Miguel” e “S. Salvador”, foram para o fundo tendo perecido na tragédia um total
de 152 marinheiros entre os que se encontravam nas traineiras
naufragadas e os que caíram ao mar, deixando 71 viúvas e mais de 100 órfãos.
Familiares dos náufragos
No adro da igreja de Matosinhos o Início da formação da
romagem até à praia, a propósito da tragédia de 2 de Dezembro de 1947
“Em 2005, foi
inaugurado na praia de Matosinhos o monumento "Tragédia do Mar", uma
escultura homenagem ao naufrágio de 1947 com cerca de três metros de altura,
composto por cinco figuras de órfãos e viúvas cujas faces transparecem a
tragédia ocorrida em 1947. Foi esculpido por José João Brito que se baseou,
para o efectuar, na tela do mesmo nome criada pelo Mestre Augusto Gomes”.
Fonte: pt.wikipedia.org/
Em 2007, 60 anos após a tragédia, a Câmara Municipal de
Matosinhos decidiu lembrar a fatídica história publicando o livro
"Naufrágio de 1947 – Toda a Saudade é um Cais de Pedra" que apresenta
um relato pormenorizado dos acontecimentos.