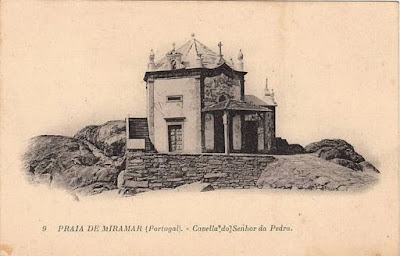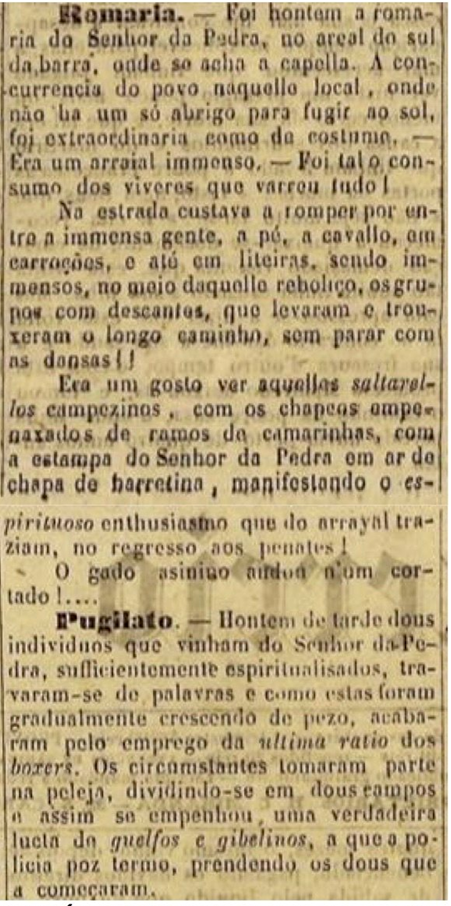A Consoada
Há mais de 100 anos, a ceia de Natal apenas existia no Porto
e no Norte de Portugal. A Sul, cumpria-se o mais rigoroso jejum.
A partir do início do advento, as famílias faziam jejum de
carne, e na véspera de Natal, no Sul do País, jejuavam até à Missa do Galo.
Advento vem do latim “ad-venio”, que quer dizer “vir,
chegar”. Começa com o Domingo mais próximo da festa de Santo André (Apóstolo,
irmão de Pedro e patrono da Igreja Ortodoxa e com festa a 30 de Novembro) e
dura quatro semanas – uma espécie de Ramadão.
No Porto, toda a família se sentava à mesa para passar a
noite de Natal, comendo o tradicional bacalhau regado com o bom azeite de
Trás-os-Montes e todas as outras iguarias próprias da quadra festiva.
A Missa do Galo também não fazia parte da tradição dos
Portuenses.
Nesse momento, o portuense estava deglutindo uma boa posta
de bacalhau acompanhado de umas suculentas couves e ninguém estava preocupado
em rezar ao Menino Jesus.
Ninguém, não é bem assim.
Uma minoria da nobreza nortenha dava uma saltada até à Missa
do Galo.
À mesa dessa nobreza, poderia estar, em 1891, segundo Maria
Antónia Lopes, do Centro de História da Sociedade e da Cultura, da Universidade
de Coimbra, um menu para ceia de Natal, do género: “puré de jardineira, arroz de fantasia caseira, costeletas nacionais e
"ervilhas idem" e couve flor composta. Para sobremesa, bolo
experimental, pudim incógnito e broas de Natal, entre outros”. O bacalhau
ficava para o povo.
A tradição em Lisboa ainda na década de 30 do século
passado, impunha que, só após a Missa do Galo se tinha, finalmente, direito a
comer qualquer coisa – normalmente, era servido um doce para quebrar o jejum.
No dia 25, então, era servido um almoço completo e, no Alentejo, era sempre
porco – peru nem vê-lo.
Hoje, a Sul, a ceia da véspera de Natal tem tanta
importância como o almoço de dia 25.
Sobre a noite de Natal em Lisboa, Ramalho Ortigão, dizia
ser:
“Uma invasão do lar
pela sacristia” e “um intrometimento
sacerdotal que interrompe um jantar com uma missa” e, ainda, “Os padres, sem de modo algum lhes
discutirmos o muito que sabem do pecado, não sabem nada acerca da família”.
Quanto à ceia de Natal no Porto, M. R. d’Assis e Carvalho,
no Tripeiro, de 20 de Dezembro de 1909, dizia:
“As famílias
geralmente não jantam; n’esse dia apenas lancham e das 7 para as 8 horas da
noite, pouco mais ou menos, começa a ceia da consoada, que é somente composta
de pessoas da família e exclusivamente obrigada a peixe, não faltando nunca o
tradicional prato de bacalhau cosido com as couves, que vimos em tão grande
abundância nos mercados. Há creadas, dignas discípulas de Brillat-Savarin, que
fazem seis e mais variedades de iguarias de bacalhau, e creiam os leitores que
o fiel amigo e as couves attingem, nesta época, preços sensivelmente elevados.
A ceia é abundantíssima, bem regada com os preciosos vinhos do Alto Douro, bem
adoçada com as rabanadas, e enfim qualquer chefe de família portuense pode
dizer, sem perigo de faltar à verdade, que Lucullo ceia n’esta noite com
Lucullo”.
Entretanto, Sousa Viterbo emite a sua opinião, em 25 de
Dezembro de 1895, sobre a consoada, do seguinte modo:
Uma tradição que durante muitos anos fez parte do Natal de
muitos portuenses e que ainda se mantem, reside na comparência de muitos à
feira dos Capões de Freamunde, pois preferem o repasto natalício deliciando-se
com estes galináceos “eunucos”, do que com os conhecidos perus.
Dela nos dá conta o texto que se segue:
Os Doces
Não há quadra festiva mais propícia para se falar de doçaria
que a do Natal.
No século XIX, os doces transacionavam-se, por alturas das
festas de Natal, Páscoa, S. João e nas romarias.
Em tempos em que os botequins começam a aparecer, as confeitarias
não eram muito numerosas.
A doçaria confeccionava-se em casa ou vinha de fora, de
outras paragens.
Eram os casos das cavacas de Resende, o pão-de-ló de
Margaride e o de Ovar, o “toucinho-do-céu”, de Braga, o Doce de Paranhos
(quando Paranhos ainda era termo do Porto), os “bolinhos de amor” de Penafiel,
as fogaças da Vila da Feira, o pão-de-ló de Arouca, etc.
Os conventos e mosteiros tinham a sua produção organizada
desde há anos e abasteciam a população gulosa.
Entre alguns, na região do Porto, tínhamos com mais fama o
convento de S. Bento da Avé-Maria e o mosteiro de Santa Clara, mas também os
produtos conventuais com origem em Braga ou Arouca.
As doçarias eram, nessa época, comercializadas em feiras e
mercados ou vendidas porta-a-porta.
A área de actuação dos chamados “Mercados do Doce”
espalhava-se pelo Largo da Feira de S. Bento, Praça D. Pedro, Rua das
Carmelitas e mercado do Anjo.
Para esse efeito, estava consagrado já há vários anos, o
mercado da feira de S. Bento.
“Viam-se já ontem
levantadas no largo da Feira (S. Bento) as barracas que todos os anos, por
igual tempo, costumam armar-se para a vendagem do doce de Natal.”
In jornal ”O Comércio do Porto”, de 20 de Dezembro de 1865 –
4ª Feira
“Conhece-se que estamos
em vésperas de Natal. Os mercados são concorridos como em tempo nenhum do ano;
em algumas ruas é difícil transitar. É a gente do campo e da cidade que
principia a fazer as suas provisões para a grande noite e para os dias
subsequentes.
Na feira de S. Bento
já se acham as vendedeiras do doce, que por este tempo ali costumam
estabelecer-se.
Os vendedores de mel
espalham-se pela cidade e, em clamorosos reclamos, inculcam o melhor que podem
a excelência do género que vendem”.
In jornal “O Comércio do Porto”, de 21 de Dezembro de 1870 –
4ª Feira
Como já se disse, confeitarias havia poucas, mas, aos
poucos, acabaram por aparecer, para fazer parte do quotidiano dos portuenses, e
estes foram-se deixando seduzir pelo fabrico e pelo consumo de doçuras de outras
paragens, casos das arrufadas de Coimbra ou das queijadas de Sintra.
No começo a confecção esteve muito ligada a padarias.
Sobre a Nova Padaria,
sita, no Largo de S. Bento das Freiras, 11, dizia-se:
“Propriedade de
António Guilherme de Araújo e Silva. Biscouto e bolacha de embarque. Peixes de
doce de várias qualidades”.
In jornal “O Noticiador Portuense”, de 5 de Setembro de 1857
– Sábado
Uma desordem ocorrida na Padaria Vilar na Rua Formosa era narrada assim:
“Ontem pelas 9 horas
da manhã, na rua formosa, na padaria do sr. Vilar, houveram gritos de socorro.
Um galego espancava o mestre da fábrica”.
In jornal “Periódico dos Pobres”, de 29 de Março de 1858 –
2ª Feira
Na Rua do Calvário,31, esteve a Nova Confeitaria:
“Há sempre um completo
sortido de doce fino. Preparam-se queques, faz-se pão-de-ló de Arouca, pudins,
travessa de ovos de fio”.
In o jornal “O Comércio do Porto”, de 29 de Fevereiro de
1860 – 4ª Feira
Quanto às confeitarias dessa época, conhece-se a Confeitaria Barbosa, do Largo de S.
Domingos, 37, fundada em 1857.
Sobre a sua produção, dizia-se:
“Biscoutos de canela,
dito Harmonia, dito Ovelhas, dito d’argolinhas”.
In “O Primeiro de Janeiro”, de 28 de Dezembro de 1888
E não podia deixar de fazer-se referência, à Confeitaria
Cascais, onde surgiu pela 1ª vez, no Porto, o bolo-rei, em 1890.
Confeitaria Portugueza (Confeitaria Cascais) de Júlio
Cascaes, na Rua de Santo António, 232-235 – Cartão comercial
Publicidade ao Bolo-Rei inserida no Jornal “A Voz Pública”
de 23 de Dezembro de 1900
Pelos anúncios anteriores se observa que o Bolo-Rei já
estava a ter grande aceitação e, alguns, até já se reclamavam de ter sido, na
cidade, os lançadores do doce que ganhou fama.
Até o bolo-rei se impor definitivamente, pelo Natal, o rei era,
de facto, o Pão-de-ló e, também, o “Pão pôdre doce”, como atesta o anúncio abaixo.
Publicidade ao “Pão pôdre doce”, In jornal “A Voz Pública”
de 25 Dezembro de 1907
(Continua)